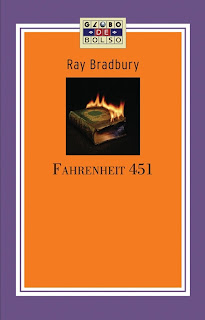Direção e roteiro: John Carney
Irlanda, 2006
Não é dos finais felizes que eu mais me lembro. Tudo bem, eles conseguem gerar satisfação imediata mas, ao mesmo tempo, são conclusivos — acabou, pronto. Os agridoces, por outro lado, ficam reverberando indefinidamente. O nó na garganta continua depois que os créditos passam pela tela, e daí se transforma em ruminação, tópico obsessivo de conversa. Talvez porque os elementos que geralmente compõem esse tipo de desfecho sejam tão familiares: o esforço sem resultados visíveis, o gosto de derrota mesmo quando se ganha, o mocinho que não fica com a mocinha... Finais agridoces geram identificação imediata.
Da primeira vez em que vi Glen Hansard e Markéta Irglová, simpatizei de cara — ela, tímida ao piano; ele, com seu violão esburacado. Os patinhos feios no meio da pompa da cerimônia do Oscar em 2008. Mas foi com a música que eles me conquistaram de vez. Ou melhor, meia música: bastou chegarem aos versos iniciais do refrão de Falling Slowly ("take this sinking boat and point it home / we've still got time") pra eu já ter meu candidato ao prêmio de Melhor Canção. Valeu a torcida — Glen e Markéta faturaram a estatueta com o tema principal de Once, que no Brasil acabou recebendo o título de Apenas Uma Vez.
Nem esperei o fim da cerimônia pra ir atrás do filme. E, mais uma vez, foi uma questão de segundos: logo na abertura, lá estava Glen com seu violão esburacado, numa calçada, cantando minha música favorita do Van Morrison, And The Healing Has Begun. Ele interpreta o Cara, que, quando não está consertando aspiradores de pó na oficina do pai, ganha uns trocados a mais como músico de rua. Durante o dia, toca covers, mas depois que o sol se põe e não tem ninguém prestando atenção, arrisca suas próprias composições. Numa dessas noites, conhece a Garota, interpretada por Markéta, que também trabalha na rua (vendendo ora revistas, ora flores) e pergunta pra quem ele escreveu aqueles versos (da canção Say It To Me Now) cheios de mágoa.
Dublin, onde os dois vivem, representa o ínterem no qual parecem estar presos: ele, tentando esquecer alguém que foi pra Londres; ela, à espera de alguém que ficou na República Tcheca. É justamente nesse "limbo" das ruas da capital irlandesa e das suas vidas que eles acabam se aproximando. Afinal, vagar por aí talvez seja a segunda melhor maneira de se conhecer melhor uma pessoa. A primeira, é claro, é a música. A Garota os conduz à loja de instrumentos onde o dono a deixa ficar praticando num dos pianos. Lá, o Cara a ensina a tocar Falling Slowly, e é evidente o sentimento que é simbolizado por aquele instante mágico em que eles se dão conta do quanto a canção fica melhor em dueto. Quando estão juntos, a cidade parece ampliar suas fronteiras — no passeio de moto, as ruas estreitas dão lugar a estradas, florestas, o mar. Quando estão juntos, conseguem convencer os outros (a banda, o gerente do banco, o técnico do estúdio) a gravar um punhado de canções.
 A trilha sonora e a química entre os protagonistas, aliás, são os dois principais elementos que fazem o filme funcionar. O irlandês Glen, que já havia participado de outro musical no cinema antes, como o guitarrista do grupo soul em The Commitments [Alan Parker, 1991], é daqueles vocalistas que cantam com tudo: garganta, peito e vísceras. À frente do The Frames — banda formada em 1990 e da qual John Carney, o roteirista e diretor de Once, foi o primeiro baixista —, ele já alternava momentos explosivos, como em Revelate [do álbum Fitzcarraldo, de 96], com outros de introspecção, como em Lay Me Down, [For The Birds, 2001], às vezes ambos na mesma canção, como na versão ao vivo de Your Face [Set List, 2004].
A trilha sonora e a química entre os protagonistas, aliás, são os dois principais elementos que fazem o filme funcionar. O irlandês Glen, que já havia participado de outro musical no cinema antes, como o guitarrista do grupo soul em The Commitments [Alan Parker, 1991], é daqueles vocalistas que cantam com tudo: garganta, peito e vísceras. À frente do The Frames — banda formada em 1990 e da qual John Carney, o roteirista e diretor de Once, foi o primeiro baixista —, ele já alternava momentos explosivos, como em Revelate [do álbum Fitzcarraldo, de 96], com outros de introspecção, como em Lay Me Down, [For The Birds, 2001], às vezes ambos na mesma canção, como na versão ao vivo de Your Face [Set List, 2004].
 Foi só quando montou outro projeto, The Swell Season, e deu início à parceria com Markéta que Glen realmente encontrou sua contraparte. Numa primeira impressão, a cantora e multi-instrumentista tcheca parece ter contribuído apenas com um pouco mais de doçura. Mas ela trouxe mais do que isso: a suavidade dos vocais e do piano de Markéta imprime uma tensão contida, num contraste que enriquece a voz áspera de Glen, como em This Low e The Moon, ambas do autointitulado disco de estreia do The Swell Season [2006], ou como em Lies e When Your Mind's Made Up, da trilha sonora de Once.
Foi só quando montou outro projeto, The Swell Season, e deu início à parceria com Markéta que Glen realmente encontrou sua contraparte. Numa primeira impressão, a cantora e multi-instrumentista tcheca parece ter contribuído apenas com um pouco mais de doçura. Mas ela trouxe mais do que isso: a suavidade dos vocais e do piano de Markéta imprime uma tensão contida, num contraste que enriquece a voz áspera de Glen, como em This Low e The Moon, ambas do autointitulado disco de estreia do The Swell Season [2006], ou como em Lies e When Your Mind's Made Up, da trilha sonora de Once.
Até então, parecia uma fábula: o filme foi rodado em esquema totalmente independente, custou apenas US$ 30 mil, rendeu quase US$ 2 milhões e ainda por cima faturou um Oscar. A história ganhou mesmo ares de conto de fada quando, durante a turnê de promoção da película, Glen e Markéta iniciaram um romance na vida real. Só que, dessa vez, a torcida não adiantou — a relação não foi pra frente e os dois se separaram em 2009, pouco antes de lançarem Strict Joy, segundo álbum do The Swell Season. No ano seguinte, ainda vieram ao Brasil pra divulgar o trabalho, e tocaram no HSBC Brasil.
O show foi cheio de momentos de arrepiar: quando Glen subiu sozinho ao palco e começou com uma performance realmente acústica (sem amplificação) de Say It To Me Now; quando a banca tocou as melhores faixas do disco novo: Low Rising, Feeling The Pull e I Have Loved You Wrong; quando eles mandaram duas do Van Morrison: Into The Mystic e Astral Weeks; e, claro, a cada canção da trilha de Once que apresentaram. A parte mais comovente, no entanto, foi mesmo Falling Slowly, que me fez voltar aquele nó na garganta.
De lá pra cá, Markéta estreou como solista com o álbum Anar [2011]. Glen está gravando o seu disco solo. E o The Swell Sweason acabou de lançar um autointitulado documentário que cobre os dois anos da tour promocional de Once, revela o cenário que levou o casal a se separar e soa como encerramento de um ciclo. Mas, quem sabe seja só uma pausa. Quem sabe a banda volte, renovada, e grave outros discos ainda mais inspirados. Quem sabe eles voltem...
Ei, eu nunca disse que não torço pelo final feliz.
Da primeira vez em que vi Glen Hansard e Markéta Irglová, simpatizei de cara — ela, tímida ao piano; ele, com seu violão esburacado. Os patinhos feios no meio da pompa da cerimônia do Oscar em 2008. Mas foi com a música que eles me conquistaram de vez. Ou melhor, meia música: bastou chegarem aos versos iniciais do refrão de Falling Slowly ("take this sinking boat and point it home / we've still got time") pra eu já ter meu candidato ao prêmio de Melhor Canção. Valeu a torcida — Glen e Markéta faturaram a estatueta com o tema principal de Once, que no Brasil acabou recebendo o título de Apenas Uma Vez.
Nem esperei o fim da cerimônia pra ir atrás do filme. E, mais uma vez, foi uma questão de segundos: logo na abertura, lá estava Glen com seu violão esburacado, numa calçada, cantando minha música favorita do Van Morrison, And The Healing Has Begun. Ele interpreta o Cara, que, quando não está consertando aspiradores de pó na oficina do pai, ganha uns trocados a mais como músico de rua. Durante o dia, toca covers, mas depois que o sol se põe e não tem ninguém prestando atenção, arrisca suas próprias composições. Numa dessas noites, conhece a Garota, interpretada por Markéta, que também trabalha na rua (vendendo ora revistas, ora flores) e pergunta pra quem ele escreveu aqueles versos (da canção Say It To Me Now) cheios de mágoa.
Dublin, onde os dois vivem, representa o ínterem no qual parecem estar presos: ele, tentando esquecer alguém que foi pra Londres; ela, à espera de alguém que ficou na República Tcheca. É justamente nesse "limbo" das ruas da capital irlandesa e das suas vidas que eles acabam se aproximando. Afinal, vagar por aí talvez seja a segunda melhor maneira de se conhecer melhor uma pessoa. A primeira, é claro, é a música. A Garota os conduz à loja de instrumentos onde o dono a deixa ficar praticando num dos pianos. Lá, o Cara a ensina a tocar Falling Slowly, e é evidente o sentimento que é simbolizado por aquele instante mágico em que eles se dão conta do quanto a canção fica melhor em dueto. Quando estão juntos, a cidade parece ampliar suas fronteiras — no passeio de moto, as ruas estreitas dão lugar a estradas, florestas, o mar. Quando estão juntos, conseguem convencer os outros (a banda, o gerente do banco, o técnico do estúdio) a gravar um punhado de canções.
 A trilha sonora e a química entre os protagonistas, aliás, são os dois principais elementos que fazem o filme funcionar. O irlandês Glen, que já havia participado de outro musical no cinema antes, como o guitarrista do grupo soul em The Commitments [Alan Parker, 1991], é daqueles vocalistas que cantam com tudo: garganta, peito e vísceras. À frente do The Frames — banda formada em 1990 e da qual John Carney, o roteirista e diretor de Once, foi o primeiro baixista —, ele já alternava momentos explosivos, como em Revelate [do álbum Fitzcarraldo, de 96], com outros de introspecção, como em Lay Me Down, [For The Birds, 2001], às vezes ambos na mesma canção, como na versão ao vivo de Your Face [Set List, 2004].
A trilha sonora e a química entre os protagonistas, aliás, são os dois principais elementos que fazem o filme funcionar. O irlandês Glen, que já havia participado de outro musical no cinema antes, como o guitarrista do grupo soul em The Commitments [Alan Parker, 1991], é daqueles vocalistas que cantam com tudo: garganta, peito e vísceras. À frente do The Frames — banda formada em 1990 e da qual John Carney, o roteirista e diretor de Once, foi o primeiro baixista —, ele já alternava momentos explosivos, como em Revelate [do álbum Fitzcarraldo, de 96], com outros de introspecção, como em Lay Me Down, [For The Birds, 2001], às vezes ambos na mesma canção, como na versão ao vivo de Your Face [Set List, 2004]. Foi só quando montou outro projeto, The Swell Season, e deu início à parceria com Markéta que Glen realmente encontrou sua contraparte. Numa primeira impressão, a cantora e multi-instrumentista tcheca parece ter contribuído apenas com um pouco mais de doçura. Mas ela trouxe mais do que isso: a suavidade dos vocais e do piano de Markéta imprime uma tensão contida, num contraste que enriquece a voz áspera de Glen, como em This Low e The Moon, ambas do autointitulado disco de estreia do The Swell Season [2006], ou como em Lies e When Your Mind's Made Up, da trilha sonora de Once.
Foi só quando montou outro projeto, The Swell Season, e deu início à parceria com Markéta que Glen realmente encontrou sua contraparte. Numa primeira impressão, a cantora e multi-instrumentista tcheca parece ter contribuído apenas com um pouco mais de doçura. Mas ela trouxe mais do que isso: a suavidade dos vocais e do piano de Markéta imprime uma tensão contida, num contraste que enriquece a voz áspera de Glen, como em This Low e The Moon, ambas do autointitulado disco de estreia do The Swell Season [2006], ou como em Lies e When Your Mind's Made Up, da trilha sonora de Once.Até então, parecia uma fábula: o filme foi rodado em esquema totalmente independente, custou apenas US$ 30 mil, rendeu quase US$ 2 milhões e ainda por cima faturou um Oscar. A história ganhou mesmo ares de conto de fada quando, durante a turnê de promoção da película, Glen e Markéta iniciaram um romance na vida real. Só que, dessa vez, a torcida não adiantou — a relação não foi pra frente e os dois se separaram em 2009, pouco antes de lançarem Strict Joy, segundo álbum do The Swell Season. No ano seguinte, ainda vieram ao Brasil pra divulgar o trabalho, e tocaram no HSBC Brasil.
De lá pra cá, Markéta estreou como solista com o álbum Anar [2011]. Glen está gravando o seu disco solo. E o The Swell Sweason acabou de lançar um autointitulado documentário que cobre os dois anos da tour promocional de Once, revela o cenário que levou o casal a se separar e soa como encerramento de um ciclo. Mas, quem sabe seja só uma pausa. Quem sabe a banda volte, renovada, e grave outros discos ainda mais inspirados. Quem sabe eles voltem...
Ei, eu nunca disse que não torço pelo final feliz.