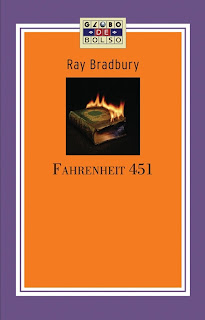Artista: Jens Lekman
Service/Secretely Canadian, 2012
Service/Secretely Canadian, 2012
 É provável que já tenha acontecido com você: um dia, seus amigos decidem que a sua fase de reclusão, motivada por um traumático fim de relacionamento, durou o suficiente e que é hora de você sair da toca e conhecer gente. Ou ao menos ver gente. De algum modo, eles o convencem a ir a uma festa, e a princípio parece até uma boa ideia. Mas logo fica evidente o seu descompasso com a humanidade — você odeia e ao mesmo tempo inveja todas aquelas pessoas descontraídas fazendo a sua miséria parecer inadequada. A sensação é a de estar gripado em pleno verão. A única saída, portanto, é alegar dor de cabeça, voltar para casa e enfrentar o resto da noite sozinho com, digamos, uma garrafa de bourbon e uma pilha de discos de fossa.
É provável que já tenha acontecido com você: um dia, seus amigos decidem que a sua fase de reclusão, motivada por um traumático fim de relacionamento, durou o suficiente e que é hora de você sair da toca e conhecer gente. Ou ao menos ver gente. De algum modo, eles o convencem a ir a uma festa, e a princípio parece até uma boa ideia. Mas logo fica evidente o seu descompasso com a humanidade — você odeia e ao mesmo tempo inveja todas aquelas pessoas descontraídas fazendo a sua miséria parecer inadequada. A sensação é a de estar gripado em pleno verão. A única saída, portanto, é alegar dor de cabeça, voltar para casa e enfrentar o resto da noite sozinho com, digamos, uma garrafa de bourbon e uma pilha de discos de fossa."Uma pilha" não é exagero. A seleção de músicas para ouvir no fundo do poço é interminável. Afinal, há desde os álbuns que soam dolorosos por razões pessoais — como, por exemplo, o que marcou as férias de fim de ano em que vocês se conheceram, ou o da cantora de quem vocês viram o show juntos — até aqueles que são fruto de uma crise parecida com a sua, ou seja, foram produzidos por artistas na pior. Dentro desse segundo grupo, alguns acabaram se tornando clássicos, como In The Wee Small Hours [1955], que Frank Sinatra lançou na esteira de seu divórcio da atriz Ava Gardner, e Blood On The Tracks [1975], no qual Bob Dylan escreveu letras deprê sobre perda e separação, refletindo o período de turbulência vivido então em seu casamento, que acabaria pouco tempo depois.
E o "gênero" continua rendendo. Dentre os exemplos mais recentes, há o comovente The First Days Of Spring [2009], da banda indie Noah And The Whale, praticamente uma crônica sobre o fim da parceria romântica e artística entre o vocalista Charlie Fink e a também cantora Laura Marling, narrado sob o ponto de vista dele; e a breve discografia do duo de alt-country The Everybodyfields, que acompanha a trajetória do casal Sam Quinn e Jill Andrews — eles ainda estavam juntos quando gravaram o álbum de estreia, Halfway There: Electricity & The South [2004]; terminaram a relação, mas decidiram continuar com a banda, projetando toda sua desilusão nas letras do segundo disco, Plague Of Dreams [2005]; a estratégia não deu certo, e as constantes brigas entre os dois chegaram a interromper as gravações do seguinte, o maravilhoso Nothing Is Okay [2007], este sim um álbum escancaradamente confessional, amargo e, infelizmente, o último deles como dupla.
Não se trata, necessariamente, de identificação literal. Para se emocionar com a canção, você não precisa ter vivido exatamente a mesma situação, por exemplo, que Charlie Fink descreve em versos como "na noite passada, dormi com uma estranha pela primeira vez desde que você se foi". A questão é empatia — você ouve uma combinação de letra, melodia e arranjo e pensa que aquele sujeito cantando sabe bem o que você está sentindo, e o entende melhor do que os seus amigos. Bons compositores de música de fossa conseguem transformar o absolutamente particular em universal.
 O sueco Jens Lekman domina como poucos essa arte. Ele é capaz de usar um acidente doméstico envolvendo uma faca e um abacate (?!) para compôr uma balada apaixonada — a adorável Your Arms Around Me, do álbum Night Falls Over Kortedala [2007] — ou de criar uma pérola pop — Waiting For Kirsten, do EP An Argument With Myself [2011] — narrando uma tentativa de encontrar Kirsten Dunst em Gothenburg, na ocasião em que a atriz esteve na Suécia para filmar o longa Melancholia, de Lars Von Trier. Ao valer-se desses episódios tão específicos, Jens faz mais do que simplesmente soar autobiográfico — as cenas peculiares pintadas por ele são como instantâneos que ilustram um sentimento comum, uma experiência que qualquer um pode ter vivenciado. Por exemplo: mesmo morando em uma cidade em que não há bondes, é fácil se pegar suspirando de solidão e nostalgia ao escutar a linda Tram #7 To Heaven, do disco When I Said I Wanted To Be Your Dog [2004]. E, como se isso não bastasse, vez ou outra ele ainda dispara um verso matador — não dá para deixar de sorrir ao ouvi-lo cantando "sim, eu fui preso, e usei o meu único telefonema pra dedicar uma canção pra você na rádio" em You Are The Light (By Which I Travel Into This And That), de Night Falls Over Kortedala.
O sueco Jens Lekman domina como poucos essa arte. Ele é capaz de usar um acidente doméstico envolvendo uma faca e um abacate (?!) para compôr uma balada apaixonada — a adorável Your Arms Around Me, do álbum Night Falls Over Kortedala [2007] — ou de criar uma pérola pop — Waiting For Kirsten, do EP An Argument With Myself [2011] — narrando uma tentativa de encontrar Kirsten Dunst em Gothenburg, na ocasião em que a atriz esteve na Suécia para filmar o longa Melancholia, de Lars Von Trier. Ao valer-se desses episódios tão específicos, Jens faz mais do que simplesmente soar autobiográfico — as cenas peculiares pintadas por ele são como instantâneos que ilustram um sentimento comum, uma experiência que qualquer um pode ter vivenciado. Por exemplo: mesmo morando em uma cidade em que não há bondes, é fácil se pegar suspirando de solidão e nostalgia ao escutar a linda Tram #7 To Heaven, do disco When I Said I Wanted To Be Your Dog [2004]. E, como se isso não bastasse, vez ou outra ele ainda dispara um verso matador — não dá para deixar de sorrir ao ouvi-lo cantando "sim, eu fui preso, e usei o meu único telefonema pra dedicar uma canção pra você na rádio" em You Are The Light (By Which I Travel Into This And That), de Night Falls Over Kortedala.Com essa personalidade romântica e meio boba (tá legal, isso foi uma redundância) que ele deixa transparecer nas composições, não é de se espantar que Jens tenha produzido um disco de fossa tão... estranho. E ao mesmo tempo, tão bonito. I Know What Love Isn't é um album "inteirinho sobre corações partidos", nas palavras do autor, produto da "pior separação" que ele já viveu. Ainda assim, há poucos momentos de melancolia explícita, talvez em três ou quatro faixas, no máximo. Entre elas, I Want A Pair Of Cowboy Boots, na qual confessa que "você estava no meu sonho na noite passada, assim como em todas as outras noites nos últimos dois anos"; mais tarde, no refrão, ele conclui que "no meu próximo sonho, quero um par de botas de cowboy, do tipo que caminha pelas mais retas e mais estreitas rotas — qualquer lugar que não seja de volta pra você".
A razão para a aparente escassez de tristeza é explicada pelo próprio Jens em uma entrevista: "a música pode fazê-lo se sentir melhor, desde que você tenha alguma perspectiva sobre as coisas; mas quando eu estava bem no meio do furacão, eu só conseguia encontrar conforto nas atividades físicas. Então, eu comecei a fazer flexões, o que foi algo completamente novo pra mim, e eu amei como isso me deixava exausto e liberava um bocado daquelas doces substâncias químicas no corpo, levando embora boa parte da preocupação e da dor. A música só veio bem depois". A "terapia" é descrita em versos na faixa Every Little Hair Knows Your Name: "eu comecei a malhar quando nós terminamos. Eu consigo fazer cem flexões, provavelmente conseguiria duzentas se estivesse entediado. Eu escrevi algumas canções quando nós terminamos. Mas não veio nada, então eu parei".
O resultado é que I Know What Love Isn't é um disco sem tantas lamúrias, como se fosse um filme ou um romance que tirasse o foco do drama em si e o concentrasse em como o protagonista tenta se livrar do fardo. No caso de Jens, pode ser de muitas maneiras: desde propor casamento à melhor amiga só para obter uma cidadania estrangeira — como ele narra na faixa-título — até retribuir a gentileza da amiga Tracey Thorn, ex-vocalista do Everything But The Girl, que em sua música Oh, The Divorces, do disco solo Love And Its Opposite [2010], havia escrito: "oh, Jens, oh, Jens, suas canções parecem olhar através de lentes diferentes; você ainda é tão jovem, o amor acaba tão facilmente quanto começa". Em Become Someone Else's, Jens responde: "o que Tracey escreveu a meu respeito é verdade — tudo depende das lentes através das quais você olha. Mas tudo o que sei sobre o amor, eu aprendi com você, Tracey".
Quem sabe a parte mais fácil no fim de um relacionamento seja justamente ficar na fossa, bebendo sozinho e se lamentando ao som de canções tristes. Mais difícil é tocar a vida, conciliando os inevitáveis momentos de depressão com as obrigações profissionais e sociais. Mas, eventualmente, um dia você acaba se dando conta de que o mundo, afinal, segue em frente. Pode ser que essa percepção venha de modo inesperado, como Jens descreve em The World Moves On: em meio à mais intensa onda de calor já vivida nos últimos anos na Austrália (onde ele morou durante algum tempo), deitado no chão, com um pacote de ervilhas congeladas na testa, e de repente, a revelação: "você não supera um coração partido, apenas aprende a carregá-lo graciosamente".
Se isso for muito "verão" pra você, talvez seja reconfortante lembrar que na Suécia faz frio o tempo todo.